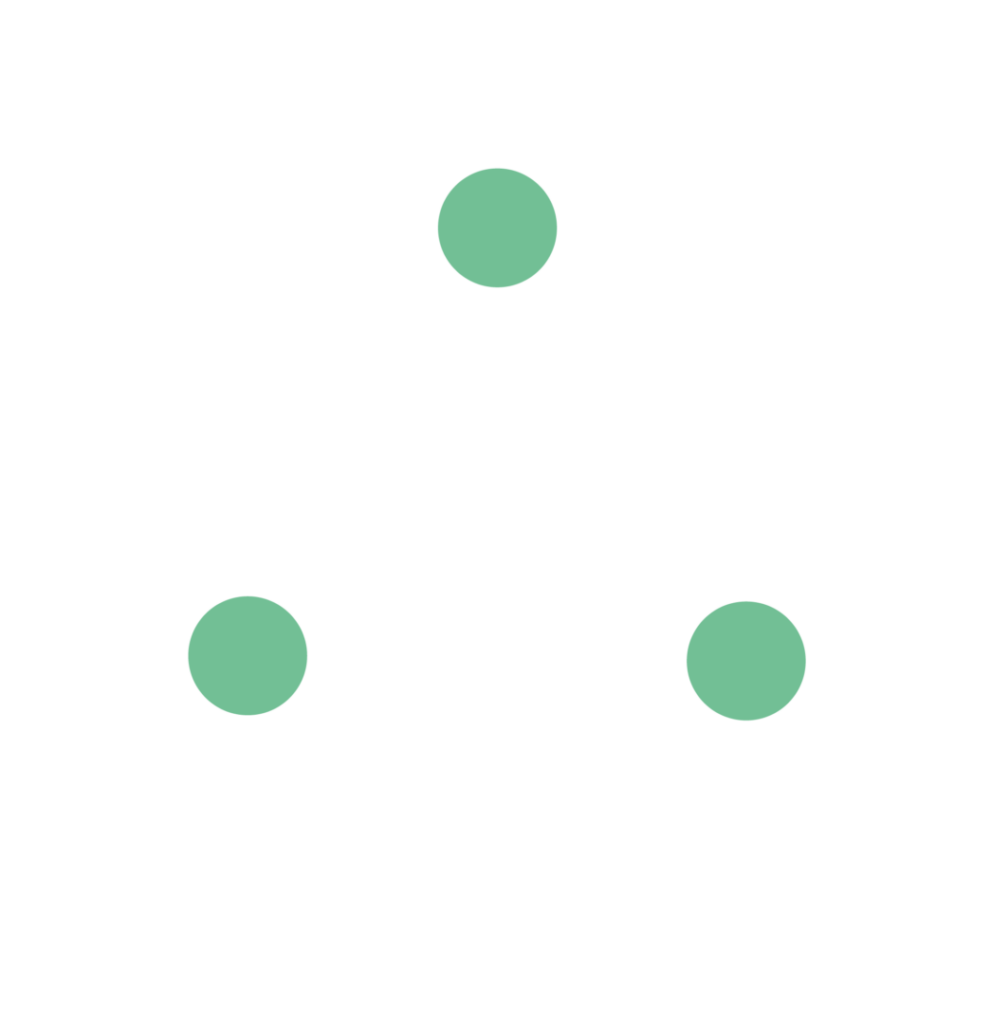O início de ano costuma ser o momento em que são definidos planos e metas para o futuro, avaliando principalmente o que queremos mudar. Na área da oncologia, uma decisão importante para 2026 é trabalhar para que a diversidade deixe de ser um fator adicional de desigualdade no cuidado da doença.
O câncer já impõe desafios suficientes. Nenhuma pessoa deveria enfrentar, além da doença, barreiras impostas por cor da pele, gênero, identidade ou orientação sexual. Planejar o futuro da oncologia passa, necessariamente, por incluir a diversidade e a inclusão nos planos, como compromisso concreto para evitar a repetição de desigualdades que comprometem o acesso, a qualidade da assistência e os desfechos clínicos.
“Mulheres negras conseguem chegar ao diagnóstico e fazer os exames. O que falha é o tratamento: ele demora, a espera é longa e, muitas vezes, chega tarde demais”, relata Juliana Ayomide, fundadora de uma agência de marketing especializada em pesquisa qualitativa e estratégias de comunicação inclusiva, a partir de sua atuação junto a mulheres negras em tratamento oncológico no SUS. “A espera pela quimioterapia, por exemplo, pode levar meses, e isso muda completamente o desfecho.”
Para Ricardo Souza Evangelista Sant’Ana, enfermeiro e pesquisador em oncologia, mestre em oncologia com PhD em andamento pela Universidade de São Paulo–McGill University e membro do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a exclusão também se expressa de forma silenciosa: “A gente fala muito em oncologia personalizada, mas como fazer equidade se não perguntamos identidade de gênero e orientação sexual?”.
Considerando a importância de promover mudanças estruturais no cuidado em câncer, a SBOC lançou o seu Guia de Diversidade, elaborado pelo Comitê de Diversidade da entidade e apresentado após o Workshop de Diversidade na Oncologia, realizado em julho de 2025. O documento parte do reconhecimento de que o cuidado oncológico é atravessado por trajetórias de vida, condições sociais e identidades que interferem diretamente no acesso aos serviços, na continuidade do tratamento e nos desfechos clínicos.
Nesse contexto, a comunicação inclusiva é tratada como elemento central da assistência — não apenas o conteúdo das informações, mas a forma como são transmitidas, a quem se dirigem e em que ambiente institucional ocorrem. O guia também chama atenção para o fato de que desigualdades como racismo, LGBTfobia, capacitismo e preconceitos de gênero estão incorporadas a fluxos, protocolos e práticas institucionais, produzindo impactos concretos na experiência e na segurança do paciente.
Racismo estrutural e o cuidado oncológico de mulheres negras
Pessoas negras representam cerca de 56% da população brasileira, mas seguem enfrentando desigualdades significativas na oncologia, como destaca o Guia da SBOC. Diagnósticos mais tardios, menor acesso a terapias de alta complexidade, sub-representação em pesquisas clínicas e maiores taxas de mortalidade refletem um cenário que não se explica por fatores biológicos isolados, mas pelo impacto do racismo estrutural, institucional e interpessoal.
Na experiência de Juliana Ayomide, essas desigualdades se tornam evidentes na trajetória de mulheres negras atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Mulheres negras conseguem fazer o diagnóstico, conseguem fazer os exames. A parte de rastreamento é rápida. Mas o tratamento é demorado”, relata.


Ao longo de sua atuação, ela ouve relatos recorrentes de atrasos no início do tratamento oncológico. Em alguns casos, as consequências foram fatais. “Ano passado eu fui ao enterro de quatro mulheres negras pacientes oncológicas”, afirma. “A Elaine foi uma delas. Ela ficou mais de sete meses aguardando tratamento. Quando foi chamada, o médico pediu novos exames. O câncer já estava superagressivo.”
Juliana lembra que a Elaine comentava: ‘eu me sinto tão triste porque não tive opção para escolher se eu ia viver mais ou não’. “A frase, dita a uma jornalista que havia enfrentado o mesmo tipo de câncer com acesso rápido a tratamento, expõe o abismo entre trajetórias que deveriam ser igualmente protegidas pelo sistema de saúde.”
A experiência pessoal também atravessa sua atuação. A mãe de Juliana morreu aos 50 anos após anos convivendo com um câncer inicialmente descredibilizado. “Na primeira consulta, o médico disse que era glândula. Minha mãe insistia que estava diferente. Meses depois, o câncer de mama já estava grande.” O descrédito da dor feminina — atravessado por gênero, classe e raça — aparece de forma recorrente. “Uma mulher me disse: ‘eu estava com muita dor, delirando, e ouvi o médico falar: calma, vocês são fortes, vocês são pretas’.”
Segundo Juliana, a desigualdade também se manifesta na forma como o cuidado é oferecido. “É tudo mais escasso. Menos tato para falar com elas. Quando vai para o lado da mulher preta, isso fica ainda mais evidente.” Para ela, o maior obstáculo para a equidade está na descredibilização sistemática: “Se questiona demais, perguntam se você estudou. Se mostra que estudou, o tratamento muda. Muitas não sabem seus direitos, não sabem questionar. Acham que o médico é 100% autoridade. Não sabem que podem perguntar, buscar outra opinião. Elas não têm opções.”
Mesmo quando o acesso é ampliado por parcerias com grandes hospitais, surgem barreiras simbólicas. “Uma mulher me disse: ‘parece um shopping da zona sul, eu nem sei como me vestir para ir. Eu não vou’.” Para Juliana, iniciativas como mutirões comunitários funcionam justamente porque criam pertencimento — mas ainda são pontuais. Ela reforça que não dá para lembrar dessas mulheres só em datas específicas. As ações precisam ser contínuas.
“Meu sonho é ver, ainda em vida, que inclusão não seja só uma palavra bonita”, afirma. “Que seja praticada no dia a dia e, principalmente, no sistema de saúde. É um direito constitucional, mas que na prática ainda é distante.”
População LGBTQIAPN+ e as barreiras invisíveis
A população LGBTQIAPN+ enfrenta discriminação individual e institucional que impacta diretamente o acesso ao cuidado, a qualidade do acolhimento e a adesão ao tratamento. O medo de julgamentos e de violência faz com que muitas pessoas adiem ou evitem o contato com os serviços de saúde, resultando em diagnósticos mais tardios e piores prognósticos.
Para Ricardo Sant’Ana, essas barreiras estão diretamente relacionadas à falta de preparo dos profissionais de saúde. “Nossa formação é muito cisgênera, não se fala sobre corpos transgênero”. Ele acredita que a equipe muitas vezes não aborda identidade de gênero ou orientação sexual por insegurança, não por má intenção, porque não teve formação.


A lacuna ficou evidente desde o início de sua trajetória. “Uma paciente me perguntou como a hormonioterapia afetaria a sexualidade dela. Eu era estagiário e não sabia responder”, relembra. Passou a estudar a sexualidade no contexto do câncer, primeiro com mulheres, depois com homens, até identificar uma lacuna ainda maior: a ausência quase total de dados e abordagens voltadas à população LGBTQIAPN+. “Falamos em cuidado individualizado, mas isso não acontece se não consideramos identidade, orientação e expressão de gênero.”
Parte desse percurso de pesquisa se consolidou em experiências internacionais. Durante o doutorado, no Canadá, na McGill University, aprofundou o estudo sobre competências culturais no cuidado oncológico e o impacto da falta de letramento em gênero e sexualidade na experiência de pacientes LGBTQIAPN+. A vivência contribuiu para estruturar o projeto que acaba de ser aprovado para o pós-doutorado: uma pesquisa voltada a compreender como a população latina LGBTQIAPN+ percebe o diagnóstico e o tratamento do câncer, ampliando o olhar e avaliando desigualdades culturais, sociais e institucionais.
Essa invisibilidade tem efeitos práticos. Campanhas de prevenção e rastreamento seguem modelos cisgêneros e heteronormativos, o que afasta parte da população. “As pessoas não se sentem acolhidas, e isso impacta os desfechos.” No Brasil, a ausência histórica de coleta sistemática desses dados dificulta o planejamento de políticas públicas, apesar de avanços recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Ricardo participa de pesquisas pioneiras que evidenciam essas lacunas. Em um estudo nacional sobre câncer de mama em mulheres trans, foi necessário cruzar bases de dados do SUS com apoio de inteligência artificial para identificar pacientes. “Foi muito difícil localizar essas pessoas. Em um momento estavam registradas como masculino, em outro como feminino.” Estudos internacionais indicam maior risco de câncer de mama em mulheres trans após anos de hormonização, reforçando a necessidade de diretrizes de rastreamento específicas.
As barreiras se intensificam para pessoas trans e travestis. “Muitas não entram no serviço por medo da discriminação. Quando entram, já chegam em estágio avançado.” Situações como a alocação de mulheres trans em enfermarias masculinas, o desrespeito ao nome social e a ausência de banheiros inclusivos comprometem o vínculo com o cuidado. “Nós, profissionais, muitas vezes ficamos na suposição — e isso exclui.”
Em busca de alternativas, Ricardo desenvolveu o programa OncoInclui, voltado à capacitação de profissionais de saúde em competências culturais. “Meu objetivo é diminuir a disparidade. O câncer pode acontecer com qualquer pessoa. Eu, como homem gay, quero ser acolhido e ter minhas questões consideradas.” Para ele, enfrentar o estigma da doença já é suficiente. “Ser excluído por quem você é, e saber que isso pode piorar o desfecho, é algo que ninguém deveria viver.”
Planejar o futuro da oncologia exige incluir a diversidade não como exceção — mas com mudanças que vão desde a base e atravessam toda a jornada.
Texto escrito por Vivi Griffon